erotismo, devastação e linguagem
livros, filmes, músicas e mais: o que fez meu cérebro coçar entre janeiro e março de 2025.
foi um período de loucura, ou cegueira, de viver apenas com as mãos, a boca e o corpo.
Anaïs Nin, Hilda Hilst e minha obsessão por encontrar Deus em outra pessoa
Quem me conhece há um bom tempo sabe que, depois de ser seduzida pela música Wuthering Heights da Kate Bush aos dezesseis anos, e de vivenciar a novíssima e incomparável sensação de encontrar a artista que eu gostaria de ser, fui imediatamente ler a obra literária que inspirou a canção: o livro homônimo de Emily Brontë, conhecido no Brasil como O morro dos ventos uivantes. Assim como fui fisgada pela música, que se tornou a faixa principal da trilha sonora daquele ano inteiro, o livro que deu origem a ela não poderia ter sido diferente em impacto, e desde que li pela primeira vez, tornou-se meu favorito. Desde então, tenho o costume de relê-lo uma vez por ano, o que até o presente momento contabiliza seis releituras — não fiz a releitura de 2025 ainda —, e sempre que me debruço novamente sobre suas páginas, descubro algo que deixei passar antes, não por falta de atenção, mas porque essa descoberta simplesmente não cabia a quem eu era na última vez que li. Esse é um dos parâmetros que uso para julgar se um livro é profundamente bom: sua atemporalidade. Entretanto, há um determinado parâmetro que despertou de sua hibernação com O morro dos ventos uivantes e que é muito mais pessoal: essa obra literária dialoga com a minha obsessão por encontrar Deus em outra pessoa? Poucos foram os livros que entraram na minha lista de prediletos por conta desse segundo parâmetro, mas inegavelmente, os títulos Ladders To Fire de Anaïs Nin e A obscena senhora D de Hilda Hilst, ambos lidos entre janeiro e fevereiro desse ano, tiveram esse privilégio.
Tanto Anaïs Nin quanto Hilda Hilst representam um tipo de literatura que só poderia ser feito por quem entende a devoção que existe na sedução. Meu primeiro contato com Anaïs foi A Spy In the House of Love, seguido de Delta de Vênus, ambos lidos em 2022. Hilda, por outro lado, foi-me apresentada a partir de seu poema Testamento lírico, mas não fui a fundo em sua bibliografia logo de pronto, pois sabia que sua escrita seria revolucionária para mim, e, por mais emocionante que isso seja, também é um pouco assustador. Porém, quando recebi A obscena senhora D de presente de aniversário em janeiro, de uma amizade recente, mas tão revolucionária na minha vida quanto o livro (obrigada, Ana Lu!), não pude fugir por mais tempo.
O que ambas as autoras têm em comum é, obviamente, o erotismo, mas também a forma singular com a qual escrevem pornografia e outros assuntos considerados tabu, ao mesmo passo em que usam desse artifício para explorar a mente e os limites do comportamento humano. No entanto, Hilda, ao menos no título que estou discutindo, é mais grotesca e urgente do que Anaïs em sua abordagem, enquanto Anaïs é mais musical e… francesa (leve uso pejorativo da palavra) do que Hilda. De maneira geral, tenho a impressão de que, postas lado a lado, suas obras podem ser complementares para leitores que, como eu, estão passando por um período de intensa reflexão a respeito do sexo, da sexualidade e do desejo — especialmente enquanto mulher —, não tanto para compreender, mas para questionar seu statu quo particular em relação a esses tópicos.
eu, que só conheço o disparate.
Algo sobre Eu, que nunca conheci os homens e a obsessão humana com o fim dos tempos
Já passava do horário de almoço, quase não engoli direito a comida devido ao calor insuportável, e logo refugiei-me no lugar mais fresco da casa: o quarto da minha mãe, onde está instalado um ar-condicionado. Estava de férias, sem muito o que fazer, mas me recusava a passar a tarde inteira rolando a FYP de qualquer uma das minhas redes sociais, e nenhum dos meus canais prediletos do YouTube haviam postado algo do meu interesse. Tendo acabado todas as leituras em formato códice, e não podendo comprar nada no Kindle pela necessidade de guardar alguns trocados, recorri aos arquivos do falecido Zlibrary que ainda tenho salvos no meu e-mail: uma biblioteca com mais de 150 livros ainda não lidos, alguns eu nem sabia do que se tratavam, baixei somente por terem sido indicações de resenhistas com gostos parecidos com os meus. Um desses livros calhou de ser Eu, que nunca conheci os homens, da escritora e psicanalista belga Jacqueline Harpman.
Agora, uma breve sinopse do livro, disponibilizada pelo site da editora Dublinense, responsável pela tradução e distribuição da edição mais recente do livro no Brasil:
Quarenta mulheres estão presas em uma jaula coletiva em um porão, sob a vigilância de guardas que permanecem sempre em silêncio. Um dia, misteriosamente, uma sirene soa, os guardas fogem e as grades se abrem. Entre as prisioneiras, está uma menina sem nome que só conhece a vida lá fora através de lembranças que as outras mulheres aceitam compartilhar. É ela que conduz as demais prisioneiras em fuga, apenas para encontrarem um lugar inóspito e desconhecido. Agora, contando apenas umas com as outras, elas terão que reaprender a viver e enfrentar outro desafio: a liberdade absoluta.
Mas Eu, que nunca conheci os homens é muito mais do que sobre reconstruir o mundo através das lembranças, é mais do que sobre a “liberdade” absoluta, é mais do que sobre encontrar uma resposta para o que a protagonista chamará de disparate: é um livro sobre identidade, o que diferencia o ser humano do restante, e o que não posso deixar de mencionar, pois é o ponto que me marcou: é um livro sobre o fim da Terra como a conhecemos. A partir de tudo isso, você já pode adivinhar tudo o que esse livro não é: reconfortante, uma leitura fácil de digerir, uma leitura que dará tudo o que você quer ou espera que aconteça. Ainda assim, me vi terminando as 151 páginas do arquivo, cheias de uma prosa irreverentemente densa, em menos de quatro horas.
O livro não se tornou um favorito instantâneo, tampouco posso dizer que é impecável — tenho várias ressalvas, mas não estou aqui para fazer uma crítica, estou aqui para contar o que ficou comigo depois da leitura. O que me fez devorar Eu, que nunca conheci os homens em tão pouco tempo (pois não, não sou uma leitora veloz), foi a sensação de ter um pensamento se desenhando em meu cérebro a cada nova vírgula. Eu sabia que só conseguiria parir essa ideia de vez quando chegasse ao ponto final do último parágrafo, na última página, e não quis perder o ritmo nem por um segundo. Porém, navegar por essa ideia quando finalizada, logo de saída, também não foi possível. Pressentia que houvesse algo relacionado ao fim dos tempos e como moldamos — e somos moldados por — ele, mas precisava de mais informações para completar essa linha de raciocínio. Então, ocorreu-me de pesquisar sobre a autora. Não fui pega de surpresa ao descobrir que Jacqueline Harpman foi perseguida durante a Segunda Grande Guerra por conta de sua ascendência judaica. Na verdade, isso explica muito bem o modo como ela consegue imbuir em sua obra, com tanta propriedade e maestria, a construção de um mundo distópico que faz de tudo para despir seus habitantes daquilo que os tornam humanos, enquanto impõe essa grande questão como a única que pode ser respondida: seria o amor aquilo que distingue o ser humano das outras espécies? Seriam nossas crenças? Seriam nossas memórias?
Porém, de tanto pensar no absurdo e na humanidade enquanto qualidade, o que acabou por destacar-se diante de meus olhos foi essa pergunta: por que contamos histórias sobre o fim do mundo?
Na trama de Eu, que nunca conheci os homens, a protagonista sem nome, apelidada apenas de Pequena, passa por uma fase de sonhar acordada. Ela cria cenários em sua mente, os quais envolvem um dos guardas que rondam a jaula na qual está presa com as outras trinta e nove mulheres, e que, assim como ela, é a pessoa mais jovem entre seus colegas. Ao final de cada um desses cenários, Pequena espera encontrar o que chama de arrebatamento.
“Eu nunca tinha pensado com tanta clareza sobre nossa situação. Nas minhas histórias, sempre havia acontecimentos: na minha vida, não haveria nunca.”
De alguma forma, acredito que o impulso que nos leva a fantasiar sobre o fim do mundo é parecido com o impulso que levou Pequena a fantasiar arrebatamentos. No fundo, sabemos, mesmo inconscientemente, que não viveremos o fim do mundo tal qual imaginamos: uma cena de devastação, caos infernal, tal qual descrita pelo Apocalipse, ou por qualquer outro mito sagrado que aventurou-se a prever nosso declínio. O fim dos tempos já está acontecendo, e todos sentimos seu peso, sua sutileza assoladora e lento declínio à loucura absoluta. Da mesma forma, Pequena não viverá sua vida tal qual imagina: ela não terá a conexão humana que tanto deseja, pois a raça humana não é mais a mesma — ela, que só conheceu o disparate, é a prova viva disso.
talk to me in french, talk to me in spanish, talk to me in your own made-up language, doesn’t matter if i understand it.
O que pode haver de revelador sobre a linguagem em uma pista de dança?
Ano passado, Charli XCX lançou seu sexto álbum de estúdio intitulado Brat, um fenômeno que pintou a internet inteira — e algumas partes do mundo real — de um verde florescente inconfundível. Eu, que acompanho os lançamentos de Charli desde 2019, não fiquei nem um pouco decepcionada ao escutar seu novo trabalho. Sou, de coração, uma amante da música eletrônica e acredito que Charli é uma das melhores artistas do gênero que temos atualmente, o que não é nenhuma opinião controversa ou impopular. Mas, foi só em janeiro desse ano, quando dancei o remix da faixa Talk Talk com alguns amigos em uma balada de Porto Alegre, que finalmente me senti tão verde florescente quanto a capa do álbum. Algo sobre ouvir Charli repetir “Fale comigo em francês, fale comigo em espanhol, fale comigo na sua própria língua inventada, não importa se vou entender”, enquanto observava a pista inteira dançar à sua própria maneira, realmente mexeu comigo, e me fez refletir sobre o papel da linguagem na minha vida.
Meu cérebro, para alguém que nunca foi boa em matemática, é surpreendentemente analítico e lógico, mas minha natureza se volta para tudo aquilo que é imaterial, que não pode ser analisado através de uma lógica concreta. Essa é a razão pela qual estudo astrologia desde os onze anos de idade. A astrologia, sendo a linguagem dos astros, permite que eu seja capaz de unir minha paixão pelo ocultismo e minha capacidade de entender o mundo através de sistemas e da identificação de padrões. E, nesse ato de estudar a linguagem dos astros, acabei me apaixonando pela linguagem em si: linguagem artística, linguagem corporal, os inúmeros sistemas de expressão de cada cultura do mundo. Enfim, tudo o que envolve linguagem, envolve a mim. Não é à toa que sou estudante de Letras.
he became a dreamer for whom the line between the real and the supernatural became blurred.
Adversidades necessárias e lições incontornáveis
Vampyr (1932) é um filme de terror gótico dirigido por Carl Theodore Dreyer, e como o título sugere, o enredo gira em torno da existência de entidades vampirescas e do terror causado por elas. A atmosfera é a parte central do que torna esse filme tão especial. Sou uma pessoa que, quando crio histórias, a atmosfera vem a mim antes de qualquer coisa, portanto, quando encontro uma obra literária ou cinematográfica com uma atmosfera específica, gosto de atentar-me ao que contribui para sua construção. Em Vampyr, mesmo o que poderia ser considerado um desafio de produção torna-se um benefício para seu universo: tendo sido o primeiro filme sonoro do diretor, ainda faz-se uso de cartilhas de texto e até closes das páginas do livro usado para explicar a natureza dos vampiros, sendo assim, as poucas falas que escutamos soam muito mais impactantes, sem contar que os longos intervalos entre diálogos são ideais para ampliar a tensão da história. Mas minha parte favorita não é aquilo que torna o filme desconcertante, e sim aquilo que torna o filme, de certa forma, etéreo, como um sonho: o uso das sombras. Vampyr é um dos poucos filmes que assisti e pensei: “É assim que se usa uma sombra”.
Se analisar a atmosfera de uma história é tão interessante para você quanto é para mim, ou se você gosta de explorar a história do terror no cinema, Vampyr é uma lição de casa que não pode ser ignorada.
no matter where you are, everyone is always connected.
Sobre uma nova religião
Cada vez mais se discute a respeito da vida online estar se tornando uma prioridade muito maior do que a vida real, o que é de extrema relevância, mas é claro que isso abre a possibilidade de criadores de conteúdo usarem a pauta para produzir uma enxurrada de vídeos e artigos do tipo “Aqui está minha experiência de passar uma semana sem usar internet”, os quais frustram todo o propósito de falar da diminuição do tempo de tela, pois torna esse ato um novo tipo de privilégio, uma nova maneira de mostrar superioridade, uma nova tendência. No entanto, de tempos em tempos, encontro alguém que realmente tem algo de valoroso a dizer sobre o assunto, é o caso da Final Girl Digital. Ela tem um canal no YouTube, assim como uma newsletter aqui mesmo no Substack, e seus ensaios nunca falham em trazer profundidade e novas perspectivas para temas crescentes em popularidade, ou que já estão batidos, mas nem por isso são menos importantes. Um dos vídeos mais recentes da criadora chama-se God is a Girl Online (Deus é uma Garota Online), no qual ela faz correlações entre a série de animação japonesa Serial Experiments Lain (magnífica, aliás) e nossa atual realidade, intensamente modificada ao longo das últimas três décadas pelo advento da internet e dos novos meios de comunicação — tudo isso fundamentado com um aporte teórico afiado.
mais, mais, mais…
Outros destaques que valem uma breve menção
TAMTAM é uma cantora-compositora da Arábia Saudita que, atualmente, mora em Los Angeles e grava músicas tanto em inglês quanto em árabe. Ela foi minha mais recente descoberta musical, e sua música QADAR, a primeira que escutei, é também minha favorita.
Love Hotel (1985) é um filme rosa japonês, dirigido por Shinji Sōmai, que faz parte da série Roman Porno do estúdio Nikkatsu. A história explora um tema que muito me cativa: a (im)possibilidade de confrontar a si mesmo através do outro. Estou particularmente obcecada pelo uso de reflexos e pela protagonista feminina da obra.
Jennie é integrante do grupo de K-Pop Blackpink, que acompanho desde sua estreia em 2016. Recentemente, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio como solista: Ruby, uma obra cuja existência só foi possível devido à sua trajetória como idol em uma indústria que não dá muita importância à individualidade. Mas, em cada uma das faixas do álbum, Jennie é capaz de reivindicar sua identidade e infundir tranquilidade na ideia de que nem todo mundo irá entender quem ela realmente é.






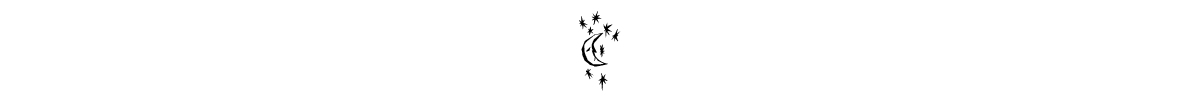

inacreditável como sou absolutamente gravitada por tudo construído por você, é tudo mais sensível por sua lente
Ler o que você tem para escrever me traz uma sensação saborosa (ainda não decidi se essa descrição inclui o paladar, mas aposto alto que sim) de que posso me encontrar nas palavras de outras pessoas quando não sei o que escrever ou como escrever o que desejo. Seu cérebro me fascina, e espero que isso soe como um elogio esquisito, mas ainda agradável, porque é com esse intuito que o direciono a ti.